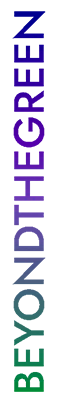O recente crescimento dos ataques diretos à Amazônia brasileira provoca uma série de questionamentos não só em relação aos seus impactos para a conjuntura política do país, mas também acerca das estruturas sociais que cerceiam esse cenário. Silvia Baptista, doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR-UFRJ, realiza uma análise, em entrevista para a Missy Magazine, sobre as conexões existentes entre a Amazônia, o feminismo, principalmente o não-branco, e o autoritarismo de direita. Segundo ela, ”enquanto a Amazônia queima, também morrem pessoas todos os dias nas favelas”, sendo necessário o entendimento de uma perspectiva generalizada sobre as estruturas de poder existentes nas relações sociais para que haja uma compreensão do papel do Estado nessa composição. Silvia Baptista faz parte dos movimentos sociais feministas no Brasil desde a década de 1980, e no período de 30/08 a 10/09 visitou Berlim e participou de um workshop organizado pela jornalista Camila Nobrega e pela artista plástica Bárbara Marcel. Além disso, Sílvia é co-fundadora da Associação dos Agricultores de Vargem Grande (Agrovargem) e membro da Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
ENTREVISTA
Missy Magazine – Edição Novembro/Dezembro – Berlim, 2019 – Narrativa Pluriversal
Que conexões existem entre as queimadas na Amazônia, o feminismo e o autoritarismo de direita? Entrevista com a ativista de agroecologia e planejadora urbana Sílvia Baptista, do Rio de Janeiro
Por Camila Nobrega.
Vou começar devolvendo uma pergunta sua, feita em uma de suas falas públicas em Berlim. “O que mais queima quando a Amazônia está queimando?”
A hipocrisia do capitalismo universal queima. Como falar das queimadas, que abrem espaço para o agronegócio, sem falar da queima de petróleo, dessa mesma lógica econômica que alimenta o modo de vida das pessoas principalmente nos países do Norte? Também é hipócrita quando esse debate não chega à relação com violência contra pessoas não brancas, tanto no campo, quanto na cidade. Enquanto queima a Amazônia, pessoas estão morrendo todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro. A morte de ambientalistas na Amazônia e de favelados é o que possibilita que um governo autoritário ganhe terreno. Estão matando nossas lideranças, de Chico Mendes a Marielle Franco.
Pode contar um pouco mais sobre essa relação que você faz entre a violência do Estado nas favelas e o que ocorre na Amazônia?
Sugiro que a gente veja meio ambiente como uma teia, uma interrelação entre as pessoas e a chamada biodiversidade. Então, quando há assassinatos de indígenas, lideranças no campo, na floresta e na cidade, isso atinge a democracia e a auto-organização. Estamos falando de um impedimento de viver, se organizar, construir outros pensamentos. A repressão do Estado torna a vida mais difícil em comunidades rurais e urbanas. Na prática, a militarização possibilita que as forças protofascistas que mais lucram continuem fazendo ainda mais fogo na floresta, queimando petróleo, abrindo espaço para as atividades econômicas que os interessam.
Você atua na zona oeste do Rio de Janeiro, que tem uma longa história de luta pela terra. O que você desenvolve lá?
A Zona Oeste do Rio é uma área também de características rurais, onde há grandes projectos de construção. O direito à permanência nesse território está no centro da nossa luta, pela manutenção dos modos de vida que ali existem há séculos. Esta disputa também é pela preservação das nossas culturas, e as formas de cultivo, de agricultura, são também legados dos/as nossas ancestrais que existem até hoje no Rio de Janeiro. Existe uma rede de mais de 200 experiências agroecológicas na Zona Oeste do Rio. E nós sempre descobrimos mais que não estão mapeadas. São formas de cultivo mantidas por famílias ou comunidades, como é o caso de comunidades quilombolas. Essas experiências trazem uma forma de cultivo de alimentos, de plantas medicinais sem agrotóxicos. Alguns desses cultivos coexistem com florestas nativas, trechos de Mata Atlântica. Ou seja, não é necessário destruir a floresta para cultivar, há formas não exploratórias e respeitosas de lidar com ela.
Que papel desempenham os feminismos na agroecologia?
A gente tem trabalhado muito a partir do feminismo negro, ou não-branco, periférico e agroecológico. Já há algum tempo estamos falando “Sem Feminismo não há agroecologia”. Estamos falando de um paradigma antipatriarcal. Na agricultura não centrada no mercado, as mulheres são protagonistas, a partir do conhecimento tradicional e local. Produzir para o comércio se tornou mais importante em todas as esferas. É o projeto que o capitalismo traz e que a extrema-direita está levando ainda mais adiante em todo o mundo. São muitas camadas, mas precisamos conseguir uma narrativa pluriversal. Veja bem, pluriversal, e não universal. É preciso que as pessoas se reconheçam nas suas diversas camadas de opressão.
Nessa busca, a agricultura urbana é em si um contraponto ao modelo econômico atual?
Entendemos a agricultura urbana agroecológica como uma cultura contra-hegemônica. Se contrapõe em várias camadas ao modelo capitalista, pois não se curva ao modelo de cidade que transforma tudo em mercadoria. Pelo contrário, é uma agricultura que insiste na autonomia das pessoas e em outro conceito do que seja trabalho. Não é um trabalho abstrato, é uma relação direta com a natureza, com água e comida.
O debate pelo direito ao território, em especial às terras coletivas, tem sido desafiado pela expansão das plantações de monoculturas, do desmatamento, agronegócio, mineração, entre outros. Já nas cidades, há um processo de gentrificação em curso. No Rio de Janeiro, a preparação para os megaeventos, como Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 levaram à remoção de cerca de 80 mil pessoas de diferentes comunidades…
Os mega-eventos evidenciaram a relação entre a luta pela agricultura e pela moradia. Por exemplo, as obras relativas aos Jogos Olímpicos na Zona Oeste do Rio levaram também à remoção de hortas urbanas. Nesse período, alguns processos de batalha por direito ao território foram intensificados, com algumas conquistas. O quilombo Cafunda-Astrogilda conseguiu titulação em 2014. Isso significa a garantia do direito à uma terra coletiva. (No Brasil existem algumas possibilidades de propriedade coletiva de terras, como ocorre também com comunidades indígenas). Mas sabemos que estamos sempre sob ameaças e ficamos em alerta constante. A luta pela terra é local, mas também global. Temos de compreender – e isso queima.