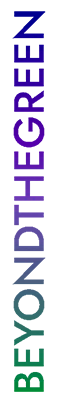Por Camila Nobrega e Raquel Baster*
São seis meses do dia em que o mundo inteiro deveria ter se voltado para o Estado de Minas Gerais, mais especificamente em 25 de janeiro de 2019, para acompanhar um dos maiores desastres sociais e ambientais da história. De novo. Em um intervalo de menos de cinco anos após a destruição que a mineradora Samarco causou em Mariana, outra lama de rejeitos, dessa vez da mina Córrego do Feijão, da Vale, avançava a uma velocidade de cerca de 80 quilômetros por hora, engolindo a cidade de Brumadinho e a região do entorno.
A chegada de notícias em ritmo acelerado, desencontrado, e o acompanhamento midiático majoritariamente na direção de um desastre natural traziam consciência de que a abordagem do assunto precisa mudar. E rápido. O que pouco se fala é que a interseção entre a justiça socioambiental e os movimentos de mulheres, especialmente na América Latina, têm muito a ver com isso.
O diagnóstico de Brumadinho iria se atualizando depois, mas nunca, no entanto, ganhando as dimensões reais do tamanho do desastre. Até o momento, são 248 mortos, 22 desaparecidos ou não identificados, o rio Paraopeba contaminado em praticamente toda sua extensão. Este mês, a mineradora foi condenada pela primeira vez, na Justiça Estadual de Minas Gerais, a reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Sobre a decisão, o juiz Elton Pupo Nogueira, da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, afirmou que a tragédia “afetou também o meio ambiente local e regional”. O que a Justiça quer dizer com isso, no entanto, ainda não está evidenciado, assim como o valor da condenação também não foi estipulado.
Tendo em vista o momento político sob o governo Bolsonaro, cuja agenda ambiental tem como diretriz enfraquecer leis e órgãos de proteção ambiental, fragilizar ou suspender políticas públicas voltadas às populações tradicionais, tendo autorizado até agora 290 novos agrotóxicos (mais de um por dia de gestão) e se posicionado como se meio ambiente fosse apenas entrave, parece evidente que o significado da expressão e todo o campo que se refere a ela merece atenção.
Nesse contexto, os movimentos de mulheres e os feminismos latino-americanos se encontram invisibilizados, ainda que mantendo seus protagonismos nas bases. Eles constroem novas narrativas que ampliam o debate público, jogando luz sobre as relações entre desigualdades, lugares de poder, e o que se convencionou chamar meio ambiente. Mas não encontram espaço em uma estrutura de mídia tão concentrada, em que as vozes de mulheres, principalmente negras, indígenas, campesinas e de outras comunidades tradicionais, mais ainda quando trans, lésbicas e bissexuais, não encontram espaços, têm suas vozes interrompidas.

Elisa de Souza, cujo nome indígena Pataxó é Katauá, revela os impactos do rompimento da barragem na sua comunidade, localizada à margem do rio Paraopeba. (Foto: Camila Nobrega)
A partir da ideia de justiça socioambiental (em contraposição ao que se chama de “desenvolvimento sustentável”), os feminismos latino-americanos trazem olhares múltiplos, que evidenciam as combinações entre patriarcado, racismos, diferença de classe, homofobia e transfobia. Entre as referências latino-americanas, a colombiana Diana Ojeda situa as expectativas de gênero, estereótipos e relações de poder na relação das pessoas com o meio ambiente (artigo Genero, Naturaleza y Politica: Los estudios sobre genero y medio ambiente, 2011).
Após a tragédia em Brumadinho, perfis sobre as vítimas dominaram o noticiário, sendo elas principalmente homens que trabalhavam na mina e morreram no desastre. A quantidade de empregos gerados pela Vale sempre teve visibilidade, assim como o tamanho do setor da mineração no Estado do País que carrega a atividade em seu nome. Com relação a impactos, em geral a cobertura midiática se voltou para as compensações ambientais da Vale.
Assim, soterram-se também modos de vida e histórias sobre o que existia ali antes do crime ambiental e outros impactos causados pelo megaprojeto. Com uma divisão do trabalho que acabou reforçada pela chegada da mineradora no local, enquanto homens eram a maioria de trabalhadores da mina, mulheres desempenhavam enorme papel na agricultura e outros trabalhos reprodutivos(*), por exemplo. De acordo com o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), o município de Brumadinho tem 2.100 imóveis rurais. Em toda a região da bacia do Rio Paraopeba (48 municípios), o sistema indica que há 56.084 imóveis rurais, numa área de 2.102.666 hectares.
Em sua maioria, porém, não são as mulheres agricultoras que possuem o título da terra ficando elas, portanto, invisibilizadas nas estatísticas. Da mesma maneira, o cotidiano das mulheres indígenas da aldeia Pataxó do município de São Joaquim de Bicas, também fica à margem na cobertura midiática. Fala-se em contaminação do rio, mas o que isso de fato significa? Em visita logo após o crime ambiental, foi possível ver o protagonismo das mulheres indígenas, que carregam sabedoria sobre o território, a terra, as sementes crioulas, o rio, a organização da comunidade Pataxó. Tudo isso posto em risco, a partir do fato de que o maior provedor de manutenção da vida ali, o Paraopeba, foi completamente contaminado.
“O primeiro território que necessitamos defender são nossos corpos”, Alika Nayeli
Mulheres camponesas têm se tornado as maiores protagonistas no esforço de evidenciar riscos e impactos ambientais da mineração, do desmatamento e de megaprojetos no Brasil, denunciando o desrespeito à legislação ambiental, que exige, por exemplo, Consulta Prévia Livre e Informada (Convenção 169 da OIT) aos povos tradicionais, a falta de transparência e de respostas de investigações. Mas muitas têm sido ameaçadas e até silenciadas. O levantamento mais recente de dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), relativo a dados de 2018, demonstrou que 886 mulheres sofreram algum tipo de violência, como tortura, agressão, intimidação em conflitos no campo. Desse total, de acordo com o relatório da CPT, duas mulheres sem-terra foram assassinadas, outras seis sofreram tentativas de assassinato, 37 foram vítimas de ameaças de mortes e 16 foram presas sem provas suficientes (saiba mais).
O cenário se repete em outros países latino-americanos, como o México. “O primeiro território que necessitamos defender são nossos corpos. Manter-nos vivas para nossa participação acontecer”, é o que afirmou a liderança indígena Alika Nayeli Santiago Trejo, do Colectivo de Mujeres Del Poniente de Bacalar K-luumil X’Ko’olelo’ob, do estado de Quintana Roo, em uma mesa de debate chamada “As mulheres em defesa dos territórios”, que ocorreu na semana passada na Cidade do México, organizada pelo Instituto Nacional de Antropologia.
Segundo Alika, as comunidades indígenas da região são ameaçadas pelo agronegócio, em decorrência do uso indiscriminado de agrotóxicos e de alimentos transgênicos. Em 2017, grupos indígenas da península de Yucatán apresentaram acusações de que a empresa Monsanto usa glifosato na área. Eles pediram ao Ministério da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação (Sagarpa), no estado de Campeche, para investigar o uso desse herbicida em 23 mil hectares de soja transgênica ilegal. Ainda não há respostas.
É por isso que Alika e o coletivo K-luumil K-luumil X’Ko’olelo’ob (que significa ‘a terra de nossas mulheres’) fizeram da saúde um eixo do qual defendem seu lugar. “Somos convocadas pela defesa do nosso território e pela luta por uma vida mais digna. Nós nos organizamos para tornar visível o que já fazemos porque as mulheres estão sempre no cuidado da vida. Olhando para a defesa do território do ponto de vista da saúde da comunidade, nos permite tornar visível todo o trabalho de cuidado que as mulheres fazem do território, além de entender que a saúde é feita na comunidade e que as dinâmicas socioculturais e econômicas impactam a saúde de quem mora lá”, enfatizou Alika.
Outro território, Zoque, é exemplo da luta das mulheres no México. Situado no povoado de Chapultenango, no estado de Chiapas, é rico em bens comuns, tais como água, petróleo, gás natural. Há muitos anos, o território é cobiçado por corporações transnacionais e ditos projetos de desenvolvimento do Estado, que vêm devastando terras, contaminando às águas e destruindo comunidades inteiras, provocando fortes conflitos agrários. Hidrelétricas, minas, extração de hidrocarbonetos e projetos geotérmicos ameaçam o território e a própria sobrevivência dos povos. Em meio a esse cenário, as mulheres zoques sempre foram excluídas dos processos de direito a terra. Só poderiam reivindicar por um pedaço de terra ou lutar por ela, as mulheres viúvas e ou com filhos. Não tinham direito aos espaços de tomada de decisão. Atualmente, no entanto, organizadas em rede (Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza), elas são reconhecidas nas assembleias comunitárias e têm acesso a parcelas para semear.
No Brasil, o movimento de mulheres também cresce dentro de redes de Agroecologia, do movimento pela terra (Marcha das Margaridas, por exemplo) e dentro da justiça socioambiental. Simultaneamente, cresce também a participação de mulheres no movimento da comunicação popular, comunitária, alternativa.
Se, por um lado, são alvo por estarem à frente de denúncias, são também as mulheres negras e indígenas que apontam e, dessa forma, devem ser reconhecidas cada vez mais como protagonistas, para mudanças e a resistência de outros modos de vida. Agroecologia como um norte de construção social, conhecimentos de medicina tradicional, redes de comunicação em áreas remotas da América Latina, uso da tecnologia em busca de formas de emancipação. São propostas de existências feministas e transfeministas na busca por processos de autonomia. Ou seja, o que tem levado a essa escalada da violência contra as mulheres nada a tem a ver com fragilidade. É exatamente o contrário. O alvo é a potência que mostra o esgotamento do modelo atual de sociedade, e aponta possibilidades de construção diferentes, algumas em processo, outras simplesmente já existentes e resistentes.
Na prática, porém, a ação do Estado têm favorecido a exclusão dessas mulheres do direito à comunicação, à terra, aos territórios e a uma vida mais digna.
Muito além da “impactologia”
As condições de vida impactam na maneira como cada pessoa é atingida pelo modelo de desenvolvimento atual, cujas consequências são muitas e diárias, mas se tornam mais visíveis em desastres ambientais, mudanças climáticas, expulsão de populações de seus territórios, insegurança e falta de soberania alimentar, desaparecimento de modos de vida e aprofundamento das várias desigualdades. Falando de Brasil e América Latina, é preciso pensar o histórico colonial e a forma como a dependência da extração de bens naturais afeta diretamente nossos territórios.
A pesquisadora brasileira Joana Emmerick Seabra, no artigo “Construindo leituras feministas sobre territórios atingidos por megaprojetos de desenvolvimento” explora exatamente os ecofeminismos do Sul com foco na América Latina, para analisar a atuação da Vale no Brasil, e ressalta as experiências de mulheres não brancas, negras, indígenas, campesinas, trabalhadoras que vivem em áreas rurais ou urbanas. No artigo, ela afirma que é necessário ir muito além da análise de impactos – o que ela chama de “impactologia” para compreender a vida de mulheres nos territórios em que se encontram poderosos agentes econômicos e para entender as condições de opressão das pessoas e da natureza (saiba mais).
Pensando em Brumadinho, Mariana e na forma como a atividade de mineração e os megaprojetos de infraestrutura têm sido implementados no País e no continente latino-americano, ajuda a entender que muito mais foi soterrado pela lama do que empregos, desenvolvimento econômico e queda na bolsa de valores. E isso tudo tem que entrar, não apenas no cálculo da Justiça, no sentido de garantir reparação, mas no debate público. E é exatamente aí que um giro narrativo precisa ocorrer.
*As duas autoras são jornalistas e integrantes do Intervozes. Camila Nobrega é doutoranda em Ciência Política na Universidade Livre de Berlim. Raquel Baster é mestre em Comunicação pela UFPB
(*) O trabalho reprodutivo está associado à reprodução social ou todo trabalho
não considerado produtivo sob a ótica econômica, geralmente ligado ao cuidado
de crianças, adultos, idosos, famílias, comunidade, moradia, terra, bens
comuns etc, e socialmente construído como habilidade feminina, intimamente
ligado à reprodução e ao sexo biológicos, à geração de vida como somente
responsabilidade de mulheres. A subjugação da natureza e do trabalho do
cuidado pela dinâmica capitalista coloca o trabalho reprodutivo como um bem
natural e não socialmente construído (e por isso não passível de remuneração).
É ainda considerado complementar e secundário ao trabalho considerado
produtivo na perspectiva econômica. (Miés e Shiva, 2005, Bauhardt, 2014,
Svampa, 2015). O feminismo Latino-Americano evidencia o pensamento das
mulheres dos territórios ameaçados como transgressor da lógica que
subalterniza o trabalho reprodutivo, trazendo a importância de uma cultura do
cuidado e de uma ecodependência (Svampa, 2015)